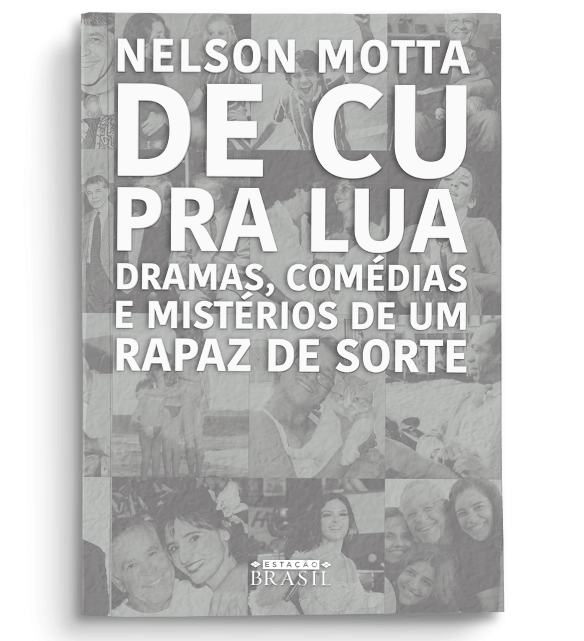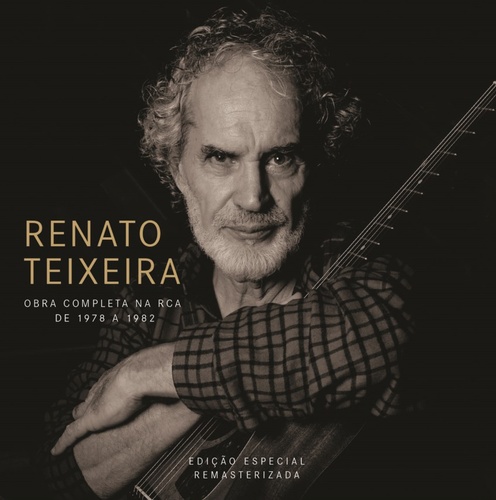Não, não se trata de baixaria, jamais faria isso. Imagine… Pelo contrário, busco a redenção de algumas palavras, dizeres e expressões que são, por diferentes motivos, interditados e, no geral, tidos como avessos civilizatórios. Em nome do refinamento imposto pela “norma culta”, termos “vulgares” têm se distinguido das manifestações depuradas pela chamada “boa educação”. Com tensões, o abismo se alarga entre o que se diz e o que se escreve, conferindo tolerâncias filtradas por diferenças geracionais, de classes sociais e, sobretudo, de comprometimento erudito. É lógico que há nuanças que calibram extremos (de Gregório de Matos a Jorge Amado, de Chiquinha Gonzaga a Dercy Gonçalves), exceções que, contudo, só confirmam a regra.
Sabe-se que o palavrão permeia todas as faixas, mas seu uso (cada vez menor) não é tão liberado ou libertador como parece à primeira vista. Impõe-se então entender enunciados circunstanciais: de quem e para quem, se entre emissores socialmente próximos ou subalternos, se escritos ou verbalizados.
Sabe-se que na fluidez das falas somos flexíveis, mas quando escrevemos galgamos solenidades às vezes perversas… É lógico que a língua é viva, maleável, progressiva, mas se isso acontece em ambos os códigos, no oral repontam permissões inconvenientes na transposição grafada. Aliás, é na escrita, que a coisa pega mais. Nos deploráveis manuais de redação – guias impostos pelos importantes jornais (Folha, Estadão, O Globo) – por exemplo, marcas da fala são proscritas como crimes (“cacete”, “bicha”, “esporro” e até “membro” devem ser vetados).
Não era refinado o linguajar da família imperial no Brasil
Sei que a seguinte afirmativa é polêmica, mas na chave do “livre pensar” ouso dizer que a nossa língua portuguesa não é bonita como ufanistas decantam, longe disso, aliás. Cheia de “ãos” e “ães”, terminantes em “or”, “ar”, “ir”, o uso sugere rimas fáceis demais, sem muitos mistérios, plenas de soluções imediatas. Rendo tributo aos poetas lusófonos que precisam de muito engenho e arte para dar vida à brutalidade das palavras (Pessoa, Drummond, Chico Buarque, José Craveirinha e Luís Carlos Patraquim que o digam). E mora na exaltação despudorada da língua de Camões certa consciência ambígua que condensa a penúria cândida contida no verso “última flor do lácio inculta e bela”.
Devo dizer que, meditando sobre alguns pressupostos bilacquianos, encontro amparo na passagem em que ele, em vacilo freudiano, declara “amo-te, ó rude e doloroso idioma”. Em termos comparativos é bom que, tendo o latim como matriz, sejam coroadas outras línguas muito mais melodiosas e musicais como o italiano, francês, espanhol e até o catalão.
Fernando Pessoa ajudou a dar vida à brutalidade das palavras
E tem mais, fomos colonizados por um segmento que, frente a fidelidade vernacular, tinha sim algumas exceções, mas que no geral era muito mal instruído em termos de controle formal da língua. A corte portuguesa que chegou ao Brasil em 1808 era constituída de maioria analfabeta, gente de modos e de falar rude, chulo mesmo, e que maltratava a expressão oficial e, sobretudo, era dada a palavrões que se multiplicavam em colóquios pouco corteses e até, em muitos casos, escatológicos. Dona Carlota Joaquina que o diga. E sabe-se que Dom Pedro I também era dono de vocabulário nada condizente com a fantasia de qualquer nobreza. Ademais, numa sociedade escravocrata, a agressão cotidiana exercitada não era apenas física, pelo contrário, era coerente com trato verbal.
Houve sim um esforço incontestável de Dom Pedro II no sentido de mudar o perfil de nossa elite instituída. Chegado à ciência, devoto de lances da modernidade, o segundo imperador (1840 – 1889) bem que tentou impor certo glamour que, contudo, ficou reduzido a pequeno grupo – nesse quesito, convém dar uma boa olhada na demora para a valorização das escolas no Brasil – inclusive na criação das universidades que apenas repontaram na República. E não podemos nos esquecer que o tempo colonial nos impôs um gerúndio crônico, persistente e perturbador (“continuando”, “falando”, “palavreando”) que se distanciou do português metropolitano, algo mais exato (“a continuar”, “a falar” e “a palavrear”). Mas nada nos foi mais cruel do que o legado dos chamados turpilóquios, ou seja, do culto aos palavrões que se popularizaram. No cotidiano, soltamos “puta que pariu”, “vá a merda”, “pô”, ou “tô de saco cheio” com fluidez até consentida, mas… Mas não escrevemos com a mesma facilidade.
Todo este trololó se me apresentou frente ao título de um livro recém lançado no Brasil: “De Cu Pra Lua: Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte”. Assinado pelo eterno Nelson Motta, esse garoto de quase 80 anos, trata-se de um relato de memórias pessoais onde o autor narra suas peripécias como jornalista, escritor, produtor artístico. Tudo interessa nessa rota vivencial que também é nossa, mas para o momento vale ressaltar o título que, afinal, remete ao alvo desta proposta, pois, se afinal “De cu pra lua” apenas significa “ter sorte” porque usar o “palavrão” na capa? Por estar no lugar certo, na hora certa, Nelsinho quis chamar a atenção para uma característica da nossa brasilidade coloquial: a distância entre o que se fala e o que se escreve. Ele quis provocar. Eu também…